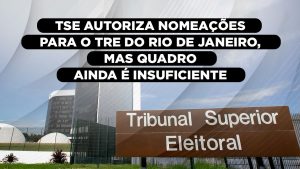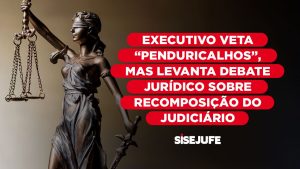Não é fácil andar pela Bahia sem esbarrar com uma pessoa negra pelo caminho. No estado, mais de 80% da população, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), é de pretos e pardos. Mas naquela manhã de novembro de 2016, Fábio Esteves só via brancos ao redor.
Foi assim até ele avistar Edinaldo César caminhando em sua direção. Passou a ser, então, dois juízes negros entre os mais de 800 convidados do encontro nacional de magistrados, num luxuoso resort em Porto Seguro, no sul do estado. “Somos muito poucos aqui”, disse Fábio ao colega. “Isso precisa mudar.”
Ali nasceu o coletivo que organiza o Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros. No ano seguinte, eles reuniram 80 magistrados em Brasília para discutir a inclusão racial nos tribunais. Foi o pontapé inicial de uma luta que já dura quatro anos e vem ganhando força dentro do Judiciário.
Hoje são 125 pessoas no grupo. Em 2020, com a pandemia, a quarta reunião anual aconteceu por videoconferência e teve 1.500 inscritos. Os encontros não se restringem a pessoas negras, para que a discussão seja ampla.
O grupo encaminhou, em 2018, ao então presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, um pedido para criação de um grupo de trabalho no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para discutir as questões raciais. Toffoli concordou e implantou o projeto já no ano seguinte.
Em novembro passado, um relatório feito por eles foi publicado com um diagnóstico e sugestões para o maior acesso dos negros na magistratura. Entre os apontamentos, está a disponibilização de ferramentas educacionais e o avanço na política de cotas.
Desde 2015, 20% das vagas nos concursos para os tribunais estão reservadas para negros. Hoje, 18% dos magistrados são pretos ou pardos.
O documento preparado pelo grupo de trabalho do CNJ pede que as cotas sejam aumentadas para 30% das vagas.
“A meta do conselho, em 2015, era sair de 18% para 22% de juízes negros em 10 anos. Agora, após 5 anos, o CNJ fez uma avaliação e viu que no ritmo atual esse índice só será alcançado em 2049. Então, a coisa está devagar, estamos colocando uma gota d’água no incêndio da floresta”, diz Fábio Esteves.
“Essas medidas têm que mudar a cara da magistratura. A gente olha e vê o juiz como alguém mais velho, loiro, alto. Essa imagem a gente só muda com o concurso público”, diz o juiz.
“Não basta ter 20% das vagas reservadas se só se aplica na primeira fase. Na fase seguinte é nota mínima e ele vai com os demais. A gente tem prova oral e a gente sabe que a questão visual, na oralidade, manda tudo. Há raríssimas bancas em que há juízes negros examinadores para o concurso.”
Outra das causas defendidas pelo grupo é que os magistrados tenham cursos sobre questões raciais nas entidades de classe e nos tribunais. Em muitos lugares isso já está acontecendo.
“É preciso mudar a formação dos nossos juízes. Há os que dizem que o racismo não existe. É preciso exigir que os magistrados, ainda que alguns não acreditem, tenham conhecimentos sobre as questões raciais no Brasil”, diz Esteves.
A ideia avança, mas não sem resistência. Em novembro, um grupo de 34 juízes filiados à Amepe (Associação dos Magistrados de Pernambuco) publicou manifesto contra um curso online para juízes cujo tema era “Racismo e suas Percepções na Pandemia”, realizado por conta do mês da consciência negra.
O documento afirmava que a magistratura vem sendo atacada e apontou que o debate sobre a questão racial demonstra que há a “infiltração ideológica das causas sociais” nas pautas levantadas pela associação, “causando indignação e desconforto em um número expressivo de juízes associados”. A presidência da Amepe manteve o curso, apesar dos protestos.
Mas é a luta por cotas o ponto central da discussão dos magistrados negros. Mesmo que os juízes que hoje propõem essa discussão tenham entrado na magistratura sem necessitar de políticas afirmativas.
Fábio Esteves é filho de um capataz de uma fazenda em Mato Grosso do Sul. Cresceu na roça. O patrão pagava um salário para o pai, mas a mãe trabalhava de graça limpando e cozinhando para mais de 40 peões. Ele só estudou porque o pai foi até o prefeito pedir que fosse instalada uma escola rural na região.
O pedido, em época de eleição, foi aceito, mas a escola construída ficava a 23 quilômetros da sede da fazenda. No começo, o pai levava os filhos de carroça, mas com o tempo ficou inviável. Ele e os irmão passaram a morar na escola, dormindo em colchões no chão. Voltavam para a casa a cada quinzena.
Ainda assim, Fábio Esteves avançou nos estudos e passou no concurso para juiz no Distrito Federal. Sua história poderia ser usada como prova de que o acesso a cargos do topo da hierarquia do serviço público é permitido mesmo a negros e pobres. Mas ele rejeita esse argumento.
“Você acha que eu tive condição de igualdade para passar na magistratura? Não admito ninguém me usar como exemplo de meritocracia. As chances devem ser iguais e os negros não estão em igualdade de condições na disputa com os brancos.”
As histórias de preconceito vividas pelos magistrados negros são comuns. Esteves conta que recentemente um advogado entrou na sala de audiência procurando o juiz.
Informado pelo servidor do tribunal de que Esteves era o juiz e estava na outra ponta da sala, o defensor passou reto novamente por ele e foi procurar no corredor do prédio da Justiça.
Karen Luise, juíza no Rio Grande do Sul, conta que por ser preta criou mecanismos para evitar constrangimentos. Ela é um dos onze juízes negros na Justiça estadual gaúcha, que tem 800 magistrados.
“As pessoas entram na minha sala e perguntam se a doutora está. A gente aprende com a vida a se identificar previamente para evitar passar por situações constrangedoras. Mas, no dia a dia, a cidadã Karen vive todas as situações típicas de racismo em lojas, supermercados”, diz.
“As pessoas insistem em falar que é vitimização. Se a pessoa sente uma dor, quem melhor que ela para dizer que está doendo?”
Karen Luise é juíza criminal em Porto Alegre, no Tribunal onde serão julgados os assassinos de João Alberto Freitas, morto diante de câmeras de clientes do supermercado Carrefour, por dois seguranças brancos. Mas, pelo sorteio, não será ela a julgar o caso.
O episódio gerou protestos, assim como aconteceu nos Estados Unidos com o assassinato de George Floyd, também sufocado pelo joelho de um guarda branco.
“Sou juíza num estado branco. Os negros estão nos tribunais, mas no banco dos réus. Isso precisa mudar. Precisa haver mais juízes, promotores, defensores públicos, advogados”, diz.
“Eu percebo a reação dos réus negros quando eles veem que é um negro que vai
julgá-los. O aumento da presença dos negros na magistratura é importante também para quem está no tribunal como réu.”
Se os negros são minoria na magistratura, há ainda a minoria da minoria. A mulher negra chega a ser raridade.
A juíza federal Adriana Cruz, do Rio de Janeiro, resolveu fazer as contas. Cruzou os dados do perfil étnico-racial da magistratura brasileira com as informações do site do Conselho da Justiça Federal. O cálculo confirmou o que a experiência pessoal já indicava.
Ela faz parte de um grupo de pouco mais de uma dezena de juízas federais que se definem como mulheres pretas num universo de mais de 2.000 magistrados federais no Brasil.
“A gente tem um problema de gênero grave no Judiciário. Porém, em termos numéricos e proporcionais quando a gente fala de baixa presença feminina no Judiciário, a gente está falando de baixa presença feminina negra”, diz Adriana Cruz.
“Se você for colocar na ponta do lápis, a proporção de mulheres na sociedade (o Judiciário não é um órgão representativo nesse sentido, mas digo como parâmetro de proporção), na verdade você teria uma sobrerrepresentação de mulheres brancas, porque elas são menos de 25% entre as mulheres e são mais de 30% entre as mulheres na magistratura”, diz Adriana.
“Então, quando falamos de falta de mulheres na magistratura, a gente fala de falta de mulheres pretas. Estamos falando da Justiça Federal, mas em todos os tribunais o percentual é o mesmo. O percentual de mulheres autodeclaradas pretas é de 1% a 2% em qualquer tribunal do país.”
A juíza Karen Luise considera que é o Judiciário o campo de batalha mais adequado para conseguir equilibrar a balança racial no Brasil.
“O discurso de que o tempo iria resolver o problema da desigualdade racial no Brasil não se sustenta. Se temos 56% de população negra, porque o percentual de negros nos espaços de poder é tão inexpressivo?”, questiona.
“A gente sabe que toda política racista que existiu neste país e no mundo tem o direito a sustentá-la de algum modo. Não podemos dizer que o direito e as leis estão fora disso. A questão racial foi objeto de uma política de Estado e só por meio de uma política de Estado ela pode ser modificada.”
Fonte: Folha de São Paulo
Foto: Pedro Ladeira e Zo Guimarães/Folhapress